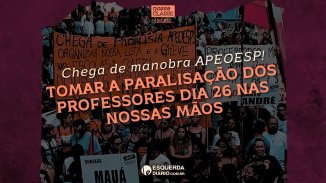Texto publicado originalmente em outubro de 2013 na revista Ideas de Izquierda número 4. Com o desenvolvimento da crise em vários aspectos do sistema universitário brasileiro e alguns sinais de que pode estar surgindo um novo movimento estudantil este texto traz à tona várias reflexões para refletir de um ponto de vista mundial e histórico a crise atual e sua superação. Traduzido por Val Lisboa a partir da tradução do francês ao espanhol por Matthias Flammenman e Gastón Gutiérrez
sábado 23 de maio de 2015 | 00:00
“E mesmo quando a necessidade econômica era a principal força motriz do progressivo conhecimento da natureza [...] Os que se ocupam disso pertencem, por sua vez, aos campos especiais da divisão do trabalho e se imaginam trabalhar num domínio independente. E na medida em que constituem um grupo independente dentro da divisão social do trabalho, suas criações, incluindo seus erros, exercem uma influência retroativa sobre o desenvolvimento social de conjunto, inclusive sobre seu desenvolvimento econômico. Mas, de todo modo, eles não deixam de estar sob a influência dominante do desenvolvimento econômico.” [Friedrich Engels, “Carta a Conrad Schmidt”, 27 de outubro de 1890]
1. A internacionalização da crise universitária
Desde os “trinta anos gloriosos” [1945-1975], a questão universitária tem estado no coração das políticas econômicas dos países imperialistas. A União Europeia elaborou de forma específica, desde os anos 1990, uma ideologia regional com eixo no “investimento na inteligência” e na excelência científica: “a economia do conhecimento” tem sido ponta-de-lança do novo “Espaço Europeu do Ensino Superior”. Mas em razão da interconexão orgânica das dinâmicas no plano mundial – da qual é expressão o fluxo internacional crescente de estudantes e de professores –, esta ideologia serve, na realidade, de cavalo de Troia das reformas no plano mundial.
Como prova disso, a universidade agora se converteu em teatro de conflitos, também estruturais, nos países chamados “emergentes”. Os Estados Unidos e a Europa estão acostumados aos movimentos estudantis massivos desde os anos 1960; os últimos exemplos foram franceses e ingleses, na primavera1 de 2009 e no outono de 2011, respectivamente. Porém, hoje em dia novos atores tomam a palavra: os mais avançados, no Chile, que conhece desde 2011 mobilizações sem precedentes; neste mês de setembro os trabalhadores da educação e os estudantes mexicanos se manifestam mais uma vez – o mesmo ocorre na Grécia – contra as reformas educacionais e a privatização da indústria de petróleo. A imagem da juventude trabalhadora e/ou estudantil que se levanta desde 2011 nos países árabes é um verdadeiro “espírito dos tempos” (Zeitgeist, dizia Hegel) neoaltermundista da “indignação” (de Madri ao “#YoSoy132” mexicano, passando pelos “Occupy” nova-iorquinos e a “Primavera do Arce” em Quebec, em 2012), o levante na Turquia em junho de 2013 e, finalmente, temos visto neste verão, em São Paulo, toda uma nova geração brasileira ir à luta contra uma sociedade que produz miséria, injustiça e repressão.2
Aqui, em relação à universidade e à educação, a identidade das principais reivindicações é surpreendente: rechaço às políticas de austeridade orçamentária, à privatização e à desresponsabilização do Estado, resistência aos aumentos nos custos escolares, aos ataques aos direitos sociais e democráticos dos estudantes (bolsas ou estágio, liberdade de expressão, representatividade sindical etc.) e ao status dos docentes e pesquisadores; tudo isso converge na defesa de uma educação e pesquisa gratuitas e laicas, sob a bandeira de que “o saber não é uma mercadoria” e “a educação não está à venda”. À homogeneização internacional das contrarreformas e da crise universitária se responde, então, com uma internacionalização das revoltas, cujas elaborações teóricas, no entanto, continuam sendo dominadas pelos resquícios do altermundismo autonomista e por “anticapitalismos” pós-modernos e de contornos imprecisos. Estas revoltas estão marcadas por um duplo limite: 1) Uma débil caracterização histórica da sequência anterior ao período atual, seguida de uma má compreensão da história da regulamentação da ciência e da cultura sob o jugo do capital. Uma debilidade sustentada na ilusão de que a EC (“economia do conhecimento”) e a “mercantilização do saber e da cultura” constituiriam hoje uma verdadeira “mutação histórica”3. 2) Daí vem uma avaliação totalmente débil das delimitações estratégicas do combate a seguir e das forças sócio-políticas capazes de levá-lo adiante. A crítica marxista da economia política do saber permite superar este duplo limite.
2. A sequência histórica de uma transição sem mutação
Por definição uma “transição é uma mescla híbrida e instável do antigo e do novo; é necessário, então, ter o sentido dialético das proporções para responder a esta questão: qual é a natureza da transição histórica que afeta, hoje, no plano internacional, o modo de produção e de circulação das ciências e das humanidades nas instituições educacionais? Um intelectual de renome mundial, como Noam Chomsky, não vai além de denunciar a “privatização da universidade” que “ameaça gravemente a função subversiva e emancipadora que deveriam buscar numa democracia que goze de boa saúde”4.
Quer dizer que “mercantilização” e “privatização” (neoliberal) são sinônimos, e sem a segunda não existiria a primeira? Chomsky compartilha com a maioria dos intelectuais de esquerda uma caracterização ilusória da universidade que atualmente desaparece sob os golpes desta “privatização”, contribuindo para dar crédito a esta visão de uma verdadeira “mutação”.
Ao contrário, assistimos na superfície (nos “fenômenos”, diria Hegel, e não em sua “essência”) e parcialmente, a uma mudança da natureza da universidade: o período atual não vem do nada, constitui uma transição sem mutação, entendida como uma reorganização da universidade nascida no pós-guerra sob a pressão socioeconômica dos “trinta anos gloriosos”. Este período, caracterizado nos centros imperialistas pelo impacto da terceira revolução tecnológica, esteve especialmente marcado pelo incremento geral do nível de vida, a diminuição crescente do trabalho não qualificado e a homogeneização aparente das classes sociais no bojo do crescimento das “classes médias”. Os anos 1960 e 1970 alimentaram dialeticamente o aumento da demanda do trabalho intelectual qualificado expressando as novas necessidades econômicas do capitalismo e o aumento da oferta de trabalho qualificado fornecido pelas universidades, tanto nas esferas da produção de mercadorias como nas de “reprodução produtiva” (que participam no desenvolvimento da produção, seja no comércio, nos serviços e na administração) que contribuem indiretamente para a formação do lucro. Esta extensão drástica de trabalhadores assalariados intelectuais de alta formação que previamente eram essencialmente profissionais liberais, assim como a formação de aristocracias operárias, ampliaram e ao mesmo tempo obscureceram o conceito de “proletariado operário” e a ideia de “luta de classes”. Em países como França, Alemanha, Itália ou EUA esta configuração levou a explodir a universidade burguesa e elitista de antes da guerra5.
As revoltas estudantis, especialmente as de 1968, se dirigiram contra os marcos estreitos e aristocráticos, assim como contra as pseudo-resistências das organizações de esquerda reformistas, integradas [ao sistema] e burocratizadas. Mas atacavam, também, esta universidade tecnocrática nascente, destinada a formar em massa uma mão de obra intelectual tão especializada como disciplinada6. É neste período que a força de trabalho intelectual se alinha com o modelo de força de trabalho manual, adquirindo um preço de mercado, flutuante segundo a relação entre oferta e demanda. As universidades deste período participam de maneira sistemática nesta “mercantilização” da força de trabalho intelectual, a qual não é nenhuma novidade do “neoliberalismo”, e não pode ser captada pela lógica da privatização.
Entretanto, a visão fica parcial se nos esquecemos de que esta universidade nascida em torno de 1968 de um lado e do outro do Atlântico foi constitutivamente uma universidade do compromisso, especialmente nos países da Europa que, como a França, experimentaram ao mesmo tempo o desenvolvimento dos “serviços públicos” e a administração pública, onde a massificação da universidade foi acompanhada de uma democratização parcial e no que tange à conquista de uma real autonomia do pensamento (ainda que relativa) na elaboração e difusão do ensino: ali as tensões são recorrentes entre a reivindicação humanista que defende os princípios de igualdade e liberdade, fazendo eco da pressão popular, e a pressão econômica à adaptação permanente às exigências do mercado (que particularmente hoje cria uma sensação subjetiva de perda real de liberdade).
A universidade desde 1968 cristalizou este antagonismo social e sua estatização tem expressado, mantido e às vezes contido o equilíbrio entre as duas pressões. À semelhança de todos os demais serviços públicos, esta refratou em sua ordem o compromisso capital-trabalho do pós-guerra. Compromisso bem real: a educação tem sido, é e será sempre uma faca de dois gumes para as classes dominantes. Transformar os proletários em possíveis sábios é oferecer-lhes armas contra sua exploração e opressão e um potencial desenvolvimento de sua consciência de classes. No entanto, também deve “formá-los” bem, de maneira tal que eles possam mudar com eficácia a máquina produtiva: toda a questão está em procurar sempre organizar a socialização do conhecimento limitando o alcance subversivo, e é a isso que a nova ordem do mercado universitário mundial não pretende, de maneira alguma, responder prioritariamente.
Prolongando o período neoliberal, o capitalismo atual, desde o surgimento da crise histórica de 2007-2008, acelerou a des-democratização social e a des-massificação técnico-econômica do conhecimento e da pesquisa, a serviço de um administrador, da privatização e da austeridade orçamentária. Mediante os mecanismos da dívida pública, estados endividados e à beira da bancarrota reduzem os custos em capital variável (massas salariais) retirando as conquistas dos professores e pesquisadores e, por outro lado, como o mercado já não capaz de absorver as novas gerações de estudantes, buscam privar tendencialmente – pelo aumento dos custos – a oportunidade de ascensão à universidade dos setores populares que se veem confinados aos cursos rápidos dominados pela aquisição de competências polivalentes (daí a generalização de instituições de segundo nível, marcadas por um enfoque multidisciplinar, enquanto, institucional e geograficamente se reduzem o número dos polos de excelência.
Além desta especificidade, a universidade, estatal ou não, permanece, no entanto, como um “aparato ideológico” (Althusser), ou melhor, um aparato econômico-ideológico que assegura: 1) A qualificação da mão de obra requerida pelo mercado; 2) a justificação e reprodução ideológica da ordem burguesa; e 3) a conquista do consentimento fiel da maior parte possível da pequena burguesia. A forma privatizada que estas três funções adotam tendencialmente revelam a diminuição do Estado na regulação do capitalismo (debilitado financeiramente e, portanto, mais concentrado em suas funções repressivas e soberanas). Isso não significa que a universidade estava, antes desta privatização, alheia à lógica da mercantilização7, mas indica justamente que o lugar das instituições estatais e do Estado-nação na geopolítica do capitalismo mundial está parcialmente modificado.
3. “Revolução passiva global” e fetichismo do universal no intelectual funcionário
Rechaçar a tese da “mutação” não deve, no entanto, conduzir a minimizar as dinâmicas ideológicas próprias do nosso período atual, que podemos assimilar, recorrendo à economista inglesa Phoebe Moore, discípula de Gramsci, a uma “revolução passiva global”8, desejando restaurar as formas arcaicas e ótimas de disciplinalização dos corpos e dos espíritos no sentido do “emprego” do “capital humano”. Mesmo que não tenha conseguido com os estudantes, a quem logicamente se esforça em submeter, esta revolução passiva tem produzido o consentimento subjetivo da maioria dos educadores e pesquisadores. Mas não há consentimento subjetivo sem disposição e ethos objetivo a alcançar: o protesto dos universitários franceses em 2009 (no qual os estudantes chegaram num segundo momento, mas logo protagonizaram) foi um dos mais importantes da história deste país e da universidade em geral. Mas para o programa e para as concepções defendidas foi também revelador das contradições e dos quadros assalariados altamente qualificados que, sociologicamente falando, constituem ainda a maioria dos empregados e quadros do Estado, burgueses e pequeno-burgueses altamente qualificados. Estes últimos veem, tendencialmente, seu status desqualificado, seu valor simbólico desqualificado e vivem, assim, em graus diversos, uma certa precarização, no entanto estão longe de sofrer a proletarização vivida pelos trabalhadores administrativos e pelos trabalhadores não docentes das universidades, com frequência já colocados, além disso, na subcontratação privada.
Com certeza o funcionário intelectual não se beneficia diretamente da partilha dos lucros, e já não é o apologista incondicional do progresso capitalista que era, antes da guerra, na universidade elitista que a burguesia reservava para seus filhos. Não obstante, continua objetivamente interessado na manutenção da relação capital-trabalho, pelo fato de que numa das três funções do aparato econômico-ideológico já definidas antes ele é o último suporte empregado. A imagem do empregado de “colarinho branco”9, cuja fidelidade ao capital da empresa é comprada com ações, prêmios e stock options [contratos por cotas de ações da empresa], uma parcela da mais-valia social, ontem e hoje ainda funcionário, amanhã assalariado de um consórcio privado ou de uma fundação virtualmente pública, o intelectual padrão recupera as benesses simbólicas vinculadas ao seu posicionamento na hierarquia cultural e satisfaz, em razão da sua própria formação e hábitos culturais, suas aspirações cronicamente individualistas, conscientemente ou não. Daí sua facilidade (na imagem da “fraseologia” dos jovens hegelianos alemães que defendiam “não os interesses do proletariado, mas os interesses do ser humano, do homem em geral, do homem que não pertence a nenhuma classe nem a nenhuma realidade, e que apenas existe no céu nublado da imaginação filosófica”10), discursando contra a “mercantilização do conhecimento” para defender “desinteressadamente” e brandir a “liberdade” e o “caráter emancipador” da cultura – utilizando este fetichismo do universal (que as burocracias sindicais e os partidos reformistas alentam em seus corações) – na qual afoga os peixes nas contradições de sua posição, esquecendo maliciosamente de dizer que esta cultura é a da burguesia, e que esta emancipação se resume para eles nas reformas pacíficas e na democracia parlamentar.
Portanto, continuam sendo, congenitamente, cães de guarda da burguesia, como escrevia Nizan em 1932, funcionários da hegemonia, dizia Gramsci, serventes, tanto do capital como do Estado, que seu agente em última instância. Trotsky, igualmente, havia formulado em 1910 que não podíamos contar muito com eles para o projeto comunista revolucionário, e resumia a situação assim: “... não se pode atrair a intelligentsia para o coletivismo com o programa das reivindicações materiais imediatas. O que não significa que não seja possível atrair a intelligentsia em seu conjunto por algum outro meio, nem tampouco que os interesses materiais imediatos e as conexões classistas da intelligentsia não possam resultar para ela mais convincentes que todas as perspectivas histórico-culturais do socialismo”11. É por isso que “se a própria conquista do aparato social dependesse da adesão prévia da intelligentsia ao partido do proletariado europeu, as coisas não iriam nada bem para o coletivismo”12. O proletariado deve tratar, tanto ontem como hoje, de forjar em seu interior seus próprios “intelectuais orgânicos”, sem esperar a ilusória conversão dos “intelectuais tradicionais” aos seus interesses.
A força das revoltas estudantis contemporâneas, que tem como fundo a crescente expansão da classe operária mundial, revela a especificidade contraditória do período: uma dominação burguesa particularmente reacionária que busca atualizar as condições gerais de reprodução ampliada do capital, mas cuja hegemonia está em crise. O desafio hoje não é nem “salvar a universidade do Estado” como tal, quando está ameaçada de desaparecer, nem tratar de que exista quando nunca foi assim. Os trabalhadores e estudantes, para revolucionar a universidade, não têm que militar por saberes “desinteressados” ou “des-socializados”: porque “a classe que possui os meios de produção material dispõe, do mesmo modo, dos meios da produção intelectual”13 , do que se trata é de denunciar e defender claramente os interesses da nossa classe sobre um terreno híbrido, e de atacar sistematicamente o poder burguês.
Isto implica na transformação da bateria de reivindicações sociais e democráticas evocadas no início do artigo em reivindicações propriamente transitórias, ordenadas num modo radicalmente alternativo de compartilhar o conhecimento racional e criativo com a sociedade: em definitivo, uma verdadeira ressocialização comunista de sua produção e sua circulação.
Notas:
1- Uma nova fase de contrarreformas está acontecendo desde 2012. O governo “de esquerda” do Partido Socialista na França que a implementa. Esta reforma “Fioraso”, seguindo o nome do ministro de Ensino Superior e Pesquisa contina a reforma “LRU” (Liberdade e Responsabilidade das Universidades) que tinha sido votada pela direita zarkozista no verão de 2007 e que, começou, oficialmente o processo de autonomização e privatização dos centros universitários. Para uma análise da situação francesa até 2009 ver E.Barot, Révolution Dans l’université. Quelques leçons théoriques et lignes tactiques tirées de l’échec du printemps 2009, Montreuil, La ville brûle, 2010. Este artigo incorpora e prolonga este livro sobre a base de estudos posteriores.
2- Para um panorama internacional das revoltas da juventude (não somente estudantil), ver C. & T. Palmieri (eds.), Springtime. The New Student Rebellions, London-New York, Verso, 2011.
3- I. Bruno & allii, La grande mutation. Néolibéralisme et éducation en Europe, Paris, Syllepse, 2010. O título diz tudo. [A grande mutação, neoliberalismo e educação na Europa – Nota do Tradutor]
4- N. Chomsky, Democracy and Education, tr. fr., Réflexions sur l’université, Ivry-sur-Seine, Raisons d’Agir, 2010, ch. V, “Education supérieure et engagement d’hier à aujourd’hui” (1999), p. 148.
5- Em “La intelligentsia y el socialismo”(1910) (www.ceipleontrotsky.org), Trotsky resume assim a fisonomia desta Universidad: “A universidade é a última fase da educação organizada pelo estado do ponto de vista das classes possuidoras e dominantes, do mesmo modo que o quartel é a instituição educativa final para a jovem geração de operários e camponeses. O quartel educa nos costumes psicológicos de subordinação e na disciplina necessária para as funções sociais próprias dos mandos subalternos. A universidade, em princípio, prepara para funções de administração, direção e poder. Desse ponto de vista inclusive as corporações estudantis alemãs formam uma instituição classista original, criadora de tradições que vinculam pais e filhos, fortalecem o espírito nacionalista, inculcam costumes necessários no meio burguês e abastecem, em última instância, com cicatrizes no nariz ou debaixo da orelha como sinal de pertencimento à raça dominante.” Ver também para o caso francês Les chiens de garde (Os Cães Guardiães-1932) de Paul Nizan.
6- E. Mandel, Les étudiants, les intellectuels et la lutte des classes, Paris, La Brèche, 1979, p. 104.
7- A segunda parte deste artigo analisará os diferentes rostos desta mercantilização (os velhos e novos que operam na “economia do conhecimento” e o “novo management”) sobre a base teoria marxista do valor-trabalho.
8- Cf. P. Moore, The International Political Economy of Work and Employability, Palgrave MacMillan, 2010, Introduction pp. 8-12.
9- Funcionários com status “superior”, como chefes, gerentes, administradores.
10- K. Marx y F. Engels, Manifiesto Comunista.
11- L. Trotsky, Ob. Cit.
12- Idem.
13- K. Marx e F. Engels, A ideologia alemã.
Temas